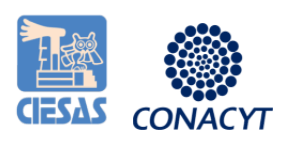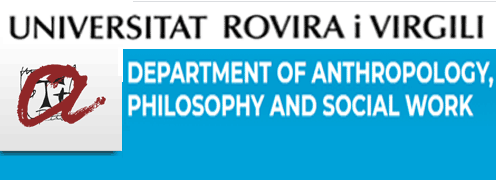À sombra do Morro do Vidigal, encontra-se o Mirante do Leblon, de onde é possível observar tanto a praia quanto os caríssimos edifícios que ocupam a sua orla. Ali, numa tarde de sábado ou domingo, estávamos eu e minha amiga Flávia juntos a várias outras pessoas que circulavam de um lado para o outro como protagonistas ou coadjuvantes daquele lugar que expressa a exagerada desigualdade da capital fluminense. Entre elas, havia alguém em especial. Seu nome não é Ulisses e eu sequer recordo como ele se chama. Talvez nem o tenha perguntado. Ainda assim, ele é a razão de ser deste texto. O protagonista – tal qual o romântico anônimo da novela dostoievskiana.
Apesar de não recordar o seu nome, não pude esquecer o seu olhar tolhido e as primeiras palavras que dirigiu a mim. Com uma pele preta que contrastava com o branco de seus olhos expressivos, o menino que deveria não ter mais do que 12 anos se aproximou e, ao menor anúncio de sua presença, sua voz infantil informou um discurso que, pelo que pude observar, se repetia em todas as suas abordagens. Dizia: “Não sou ladrão”. Este era o seu cartão de visita: uma oração que, pela negação, nos coloca defronte de várias afirmações, sendo “O Estado brasileiro falhou em garantir condições dignas de desenvolvimento para crianças e adolescentes” uma delas. Porém, entre negações e afirmações, perguntas também emergem. Afinal, de quantas e quais maneiras uma criança preta é violentada para que sinta a necessidade de afirmar, ao iniciar o contato com um adulto, que não irá roubá-lo?
A criança, que ciente do imaginário racista que paira sobre o seu corpo, anunciava não ser uma infratora, era ela mesma a vítima de um roubo. O roubo da sua infância e de seus direitos, tomados de assalto pela falência de um sistema econômico que a impelia a estar, naquela tarde, submetida à exploração do trabalho infantil e a diversas humilhações – experiências que desempenham um papel crucial no seu desenvolvimento biopsicossocial.
Além disso, dentre as várias lições que esse episódio enseja, merece destaque o fato de que, além de um modo de produção de valor por meio da exploração do trabalho humano, o capitalismo é um modo de produção de subjetividades por meio do sofrimento que essa forma de organização social engendra. Dessa maneira, consciências são produzidas a partir da relação dialética entre experiências individuais e uma realidade concreta que se erige sob os imperativos da acumulação de capital.
Por essa razão, é possível que uma criança perceba que a sua posição na estrutura social – racista e classista – confere a ela um estatuto de sujeito indesejável ou de potencial infrator aos olhos dos demais. A vida no capitalismo periférico ensina, desde muito cedo, que “se é aquilo que se tem”. Desse modo, nessa estrutura social perversa, paira no ar uma espécie de oxigênio que estimula os estratos da classe trabalhadora mais bem posicionados a se crerem hiperbolicamente superiores e, ao mesmo tempo, faz com que aqueles que ocupam as franjas da sociedade de mercado se sintam, muitas vezes, inferiores.
Tal distorção do real pode ser ilustrada por meio da análise marxiana proposta nas últimas páginas dos Manuscritos econômico-filosóficos, obra publicada originalmente em 1844. Ali, Marx se vale de um trecho do Fausto, de Goethe, em que Mefistófeles exclama “Se posso pagar seis cavalos, não são minhas as suas forças? Corro e sou um homem probo, como se tivesse vinte e quatro pernas”. Diante disso, o revolucionário alemão assevera:
“O que é para mim pelo dinheiro, o que eu posso pagar, isto é, o que o dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor do próprio dinheiro. Tão grande quanto a força do dinheiro é a minha força. As qualidades do dinheiro são minhas – [de] seu possuidor – qualidades e forças essenciais. O que eu sou e consigo não é determinado de modo algum, portanto, pela minha individualidade. [...] Eu sou – segundo minha individualidade – coxo, mas o dinheiro me proporciona vinte e quatro pés; não sou, portanto, coxo [...] O dinheiro é o bem supremo, logo, é bom também o seu possuidor.” (Marx, 2004, p. 159)[1].
Do mesmo modo, ou seja, reguladas pelo poder econômico, operam as relações sociais no Brasil, um dos dez países mais desiguais do mundo e onde, a despeito dos recém-completados 35 anos de “Constituição Cidadã”, a universalização da cidadania segue como um projeto inconcluso para largos setores da classe trabalhadora, sobretudo negros, que têm direitos civis e sociais violados dia após dia.
A mesma lógica de subordinação ao dinheiro, ao mercado e, portanto, ao capital, orienta o direito à infância, que se torna uma mercadoria, isto é, um bem a ser possuído apenas por aqueles que podem adquiri-lo. De tal maneira, enquanto algumas famílias logram tê-lo, outras padecem sem poder ofertá-lo a seus filhos. Nesses casos, há a criança, mas não a infância. Ou, em outros termos, em um país caracterizado por profunda desigualdade, há sujeitos que vivenciam a infância de uma maneira que faz o Estatuto da Criança e do Adolescente parecer uma ficção jurídica sem qualquer materialidade, tamanha são as violações de direitos que sofrem.
Esse é o caso do nosso protagonista, cuja vida, marcada por diversas violações, o fez se perceber como uma ameaça aos demais. Fato que, ao contrário do que algumas análises poderiam inferir, escancara não a ausência do Estado, mas a presença de um corpo estatal racista, que falha deliberadamente em sua função protetiva e opera ativamente a destruição de infâncias, seja pela omissão ou pela ação direta de seu braço bélico[2]. E, desse modo, o Brasil segue produzindo vivências que ferem os corpos e as almas de milhões de crianças, deixando, quando não feridas abertas, cicatrizes profundas.
Assim, em um constante embate contra monstros reais, ocorre a odisseia de meninos e meninas no capitalismo periférico. Os dias se transformam em rounds e a cidade em um grande campo de batalha, no qual crianças inseridas em contextos de vulnerabilidade social são postas, de maneira covarde, em lutas contra gigantes: o racismo, o ideário neoliberal e suas políticas de austeridade que destroem as políticas sociais, as estratégias punitivo-repressivas de criminalização da pobreza, a exploração sexual, a indiferença, a omissão e um conjunto de outros monstros que, a partir dos já citados, se fundem, retroalimentam e metamorfoseiam. Enquanto houver crianças sendo expostas a esses monstros, dormindo com fome ou exploradas, haverá a necessidade de assumir a luta contra eles, expandindo a função protetiva do Estado e resguardando os direitos adquiridos a duras penas dos retrocessos orquestrados pela extrema direita, muitas vezes disfarçados em cavalos de Troia ou pele de cordeiro. Em síntese, proteger a infância significa lutar pela destruição dos monstros que atuam na destruição das infâncias.
O Brasil, caracterizado por Darcy Ribeiro (2006, p. 95)[3] como um “moinho de gastar gente”, produz danos indeléveis e fratura todos os dias, das mais distintas maneiras possíveis, meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. Como ensinam os 523 anos de história do nosso projeto inconcluso de nação, não há saída, nos moldes do capitalismo, para superar essas violências e ofertar um desenvolvimento digno para as crianças e adolescentes brasileiros. Nunca houve. E tampouco haverá, a despeito das ilusões que possam ser alimentadas pelo social-liberalismo.
Portanto, há que inverter a razão econômica burguesa, de tal maneira que tenhamos não mais um modo produção orientado para a concentração de capital, mas para atender às necessidades de toda a população. Por essa razão, a luta pela proteção das crianças e dos adolescentes deve ser, ao mesmo tempo, uma luta contra o capitalismo e seus sustentáculos: o racismo, o machismo, o neoliberalismo e todas as formas de opressão e exploração que constrangem e prejudicam o desenvolvimento do gênero humano naquilo que ele é e pode vir a ser.
Aqui, no mundo real do capitalismo periférico, não há promessa de eterna juventude, pois sequer logramos garantir parcos anos de infância. O Rio de Janeiro e o Brasil de meninos e meninas cujos nomes não são lembrados estão cheios de Clarices, Jorges, Chicos, Ágathas, Gustavos, Cássias, Marcelos e Leilas. É preciso lutar para garantir os direitos necessários ao desenvolvimento biopsicossocial deles(as) e, assim, evitar que seus presentes sejam destruídos e seus futuros impedidos de acontecer.
[1] Marx, Karl. (2004). Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo.
[2] De acordo com o levantamento “Futuro exterminado”, 616 crianças e adolescentes foram baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos 7 anos. Desses, 338 sobreviveram e 278 foram assassinados. Ainda de acordo com o relatório, 47,6% das vítimas (isto é, 286 crianças e adolescentes) foram atingidas durante operações policiais. Conferir: www.futuroexterminado.com.br.
[3] Ribeiro, Darcy. (2006). O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.